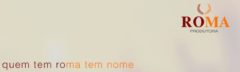Subindo afobado a ladeira da Olavo Bilac, já perto da igreja velha, o coração disparou e curti um flash back invertido, me vi entrando na venda cheia do fim-de-ano e anunciando em voz alta aos meus pais:
– Fui aprovado! Passei de ano!
Era o meu primeiro dia de escola e pouco depois, lá estava eu fazendo fila no pátio interior do Colégio São José, assediado por duas impressões vertiginosas: na frente, na ponta da fila, o rosto da Osina, mais bonito que os santinhos da Virgem Santa, que me perdoem a blasfêmia. E pela direita, subindo de uma cozinha meio subterrânea, aquele cheiro de pirulito recém tirado do forno…
Eu era o penúltimo da fila, o último era o Waldomiro, um guri fleumático e silencioso que executava um prodígio: de mãos fincadas nos bolsos, ele chegava perto, te olhava firme nos olhos e começava a abanar as orelhas. Éramos só nós dois contra um bando de gurias, e a irmã Clotilde logo me pegou pra courinho, viciou na minha orelha.
Quero esclarecer que, sendo filho da dona Irma, eu era muito devoto, e como se vê, também fui educado em colégio de freiras. Só bem mais tarde, quando conheci o seu Angelo Gobato e depois de ler o Cândido do Voltaire, é que eu caí na vida. Mas com a piazada da vizinhança, já imitava em altas vozes a cantoria do professor Egidio, que regia o coro na igreja velha: Dominus vobisco, Eu vou pro céu tu vais pro cisco…
O velho Egidio dava aulas no colégio dos maristas e era o terror da gurizada, puxava orelha, batia a régua nos dedos, dava cascudo na cabeça dos alunos. Às seis da tarde os irmãos rezavam juntos, caminhando com suas batinas negras de um extremo à outro no primeiro andar, como panteras na jaula, enquanto a gente vadiava por ali, chutando uma bola contra o muro do colégio. Camisa verde com brasão e calça de brim cáqui, fazíamos fila para entrar na sala de aula, e era quando o Cacildo vinha encher o saco. Ele tinha se especializado em puxar o rego da calça, aquela parte que se mete pra dentro da bunda. Em silêncio e agachado, ele nos examinava, como o sargento que passa em revista a tropa em formação. Quem tinha a calça solta não acontecia nada. Mas se tinha a costura afundada, ele tacava o dedo no cu do incauto e puxava pra fora, engrossando a voz: “Tem boi na linha!”
Quem dava aula de latim – ad astra per aspera, Ludus Tertius – era o Stefano, ele usava roupa civil, tinha largado a batina. Mas o jeito dele falar era muito mais de padre que os outros, que ainda eram. Padre não… frade, acho. Irmão Darcilo dava aula de inglês e ensinava: pra falar bem inglês, basta imaginar que você tem uma batata quente na boca: “the third theologian with those foolish things”. Já o irmão Josefino, o jeitinho dele não enganava ninguém e tinha sido pego com um guri no colo, foi um escândalo.
A primeira hora de aula era História Sagrada e quem dava era um irmão baixinho, gordinho e vermelhinho, pele e cabelo (Vivaldi era O Padre Vermelho, sabiam?), não lembro seu nome, tinha um cheiro avinagrado de pepino em conserva. Ele não usava óculos e nos aconselhava a piscar os olhos com frequência para preservar a agudeza visual, era muito boa gente. Agora lembrei, era o irmão Canísio.
E sempre algum aluno tinha de ler em voz alta trechos da história do cristianismo. Eram as primeiras horas da manhã, cabeceávamos de sono. Uma manhã apareceu naquelas crônicas um tal de Pepino, o Breve… Pra quê… Foi como acender o pavio de um busca-pé. Mas esse episódio fica pra outra hora, por falta de espaço aqui.
Os irmãos mudavam os nomes, pegavam codinomes tipo assim: Teófilo em lugar de Hermenegildo, como fiquei sabendo. Aliás, o Teófilo não tinha no gibi. Ele ensinava francês e curtia duas paixões, a maior era o futebol na cancha de areia do colégio. A outra era a linda horta de cenouras que ele cultivava atrás da cancha e que eu ia lá com o Cláudio Coelho, um guri que eu conheci no grupo escolar e tal como o Waldomiro, reencontrei no ginásio São J. Batista. (Nas freiras só fiz o primeiro ano, depois mudei pro grupo escolar, a Osina também foi, mas não por mim…)
O irmão Teófilo não perdia pelada e dava gosto vê-lo correndo no sol de batina negra que descia até os tornozelos, pulando pra cabecear um escanteio com os óculos de aro fino rebrilhando no rosto vermelho, disputando a redonda com a molecada que gritava com ele, porque com a batina ele retia a bola e levava vantagem. Batina velha e puída. Porém nas partidas sérias, quando a seleção do ginásio enfrentava uma equipe de fora, ele vestia uma impecável batina de domingo. Mas claro, quem brilhava mesmo feito lantejoula era nosso goleiro Agamenon, na sua jaqueta dourada com distintivo índigo, que ofuscava o sol.
Festa do colégio, partida três a três faltando três minutos para terminar, o Macaco driblou seu marcador com uma meia-lua, avançou e disparou seu famoso petardo de esquerda, sem chance pro goleiro da Tanac. O público que lotava as arquibancadas feitas de areia e lajes festejou pulando e gritando. Nossos adversários ainda levaram a bola ao centro e tentaram um ataque desesperado, mas logo soou o apito final. De onde eu estava assistindo, vi o Agamenon esquivando os torcedores que invadiam a cancha comemorando, querendo abraçá-lo.
Ele foi abrindo caminho até chegar num canto esquerdo junto ao muro, lá estava o Macaco no chão. Ao fazer o gol da vitória ele havia tido uma contusão, parecia. Agamenon puxou ele pelo braço. Mas já era só um boneco de carne e osso, tinha sido um ataque fulminante do coração. Macaco era filho do seu João. Seu João morava com a mulher e filhos numa casinha amarela na rua São João, ela tinha o bazar São João e os filhos estudavam no ginásio São João.
No dia de São João Macaco fez o gol da nossa vitória e entrou no céu. No velório fiquei sabendo que o nome dele mesmo era João Batista. Tudo isso na cidade de São João de Montenegro.
Publicado no jornal O Progresso – Montenegro RS
Por José Rogério Licks
Foto: arquivo pessoal de José Rogério Licks