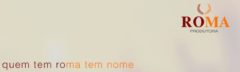O novo ano veio com algo especial, havia no ar um fluído indefinível que vinha do espaço sideral e fazia tudo mais volátil. Definitivamente, eu olhava pro meu umbigo e me sentia no centro do mundo. Na nossa esquerda morava a familia do seu Hélio, a pessoa mais importante da cidade. E na direita era o sobrado do Schütz, que com suas escadarias e quartos sombrios guardava segredos que eu não posso revelar aqui. Onde nos fundos havia uma Apotheke inteira embalsamada, com ácidos sulfúricos e preparados do Paracelso em garrafinhas de várias cores. Sem falar no matinho selvagem com goiabas, araçás, pitangas, cerejas, ameixas… E do outro lado da rua, entre outras glórias, estava o Café Elite, que o filho do dono era meu amigo, e o pai dele era o presidente do F.C. Montenegro. Onde nos fundos estava a casinha encantada com o forno, em que o Degão – treinador do time campeão da cidade – fazia os melhores pastéis, sonhos, papos de anjo do mundo. Todo guri de Montenegro queria ficar amigo do Degão, cuja figura lembrava uma lua cheia avermelhada, mas só eu sabia o segredo de como abrir a janela ao lado do forno, quando no entardecer ele chaveava a porta e ia pra casa. Mas aqui eu me calo.
A gente jogava uma pelada no pátio de pedra, alvejados em cheio pelos olores hipnóticos daquelas fritanças, e a meio caminho da casinha ainda havia uma grande churrasqueira sempre em ação (onde ocorreu uma tragédia pessoal, que se der chance eu conto) e ao lado dela estava o rinhadeiro. Já pensou o fuzuê que havia ali naquele lugar: pelada, churrasco, Degão, rinhas de galos, tudo misturado, e na frente o Café Elite sonolento, como se não soubesse de nada. Depois dos galos nós nos enfrentávamos na arena redonda, uma vez eu fui de cabeça contra a cabeça do Flávio B., ambos caímos pra trás sem sentidos. E na horta da dona Irma fiz experimentos com dois galos, eu amarrava pimenta escorpião nas esporas pra estudar o efeito da capsaicina. Mas um dia Deus nos mandou um cricri chamado Jânio Quadros e acabou-se o que era doce.
Para, chega de misturar tantos assuntos tão diferentes, cada um teria que ser abordado em particular.
Aquele era um tempo em que só se falava em marciano, e eu andava muito encucado com a possível invasão da terra, e num sonho mau me vi caminhando na Ramiro de noite, ninguém na rua, e vi que lá perto da rodoviária se abria a porta de um disco voador e descia em câmara lenta um marciano e vinha ao meu encontro, estava vestido com roupa e capacete de escafandrista. Dei meia-volta e quis correr pra casa, mas as pernas não obedeciam e o marciano vinha se aproximando no seu passo de robô… Esse tipo de paranoia me assediou um tempo, mas então houve um acontecimento que jogou tudo pra escanteio.
O prefeito era Hélio Alves de Oliveira e a cidade vivia uma fase luminosa, de grande progresso, alegria e otimismo, e a bodega do Licks também expandia os negócios. Foi aí que me contaram que estava chegando na cidade pra se encontrar com seu Hélio – nosso vizinho e pai do meu melhor amigo – uma criatura chamada Kanica Fukuda… A novidade me deixou de boca aberta, sem saber o que dizer ou pensar, mas diante daquilo marciano ficava fichinha.
Me pus de plantão na rua pra não perder nada do grande acontecimento. Talvez venha com uma grande comitiva, com banda marcial e fotógrafos, pensei. Talvez venha numa banheira americana sem capota, acenando e as pessoas atirando confeti nele… E eu olhava pra direita, mas ainda não se via nada, e olhava pra esquerda… talvez ele venha num iate moderno, singrando pelo rio Caí…
Aí meu olhar foi capturado por um joão-de-barro que estava fazendo sua casinha no poste de luz em frente à drogaria Gallas. Puxa, uma pena eu não ter o bodoque comigo, pensei, desta distância não erro o tiro de jeito nenhum. (Mau como um pica-pau, né maragato?)
De repente se ouviram vozes estranhas e risadas e eu virei a cara, mas tarde demais, só pude ver a metade traseira de um homem entrando pela portinha do escritório do seu Hélio, que era por onde a gente entrava e saía a toda hora. Fui lá e quis entrar mas a porta estava chaveada. Corri e entrei pelo portão lateral, encontrei o Romélio batendo bola contra a parede.
– Pô Romélio, não dá pra gente ir lá dentro olhar o Kanica Fukuda?
Romélio continuou chutando a bola contra a parede e fez um muxoxo, movendo a cabeça e me jogando um olhar de superioridade.
– Não, ninguém pode. Eles estão lá dentro falando de assuntos muito sérios. Nem eu posso.
E começamos nossa pelada um contra um, cada qual sumido nos seus pensamentos, os meus se resumiam a uma palavra: bosta! Mas aí me veio uma inspiração e propus: – Vamos jogar bolita?
Romélio topou e negociou: – Boco? Só jogo se for as vera.
– Não, Nica-fica – eu sugeri. Eu estava com algumas bolitas no bolso, inclusive a minha preferida, uma águida que eu chamava de Nica, decidi que dali por diante ela se chamaria Kanica. Casei duas bolitas e começamos.
Assim se via o novo ano no centro do mundo, eu tentando nicar e ganhar as bolitas do Romélio com minha águida Kanica, enquanto seu Hélio negociava os contratos com o Kanica Fukuda, a salvo de pirralhos bisbilhoteiros. E Paco, filho do seu Nezi, que era mais velho e muito mal-comportado, bolou uma marchinha pra cantar na toada do Zé Pereira.
Kanica Fukuda,
Taka a Faka Navaka,
Mija Nomuro!
Mija Nomuro!
É… Guri tem mesmo é que entrar no laço.
Publicado no jornal O Progresso – Montenegro RS
Por José Rogério Licks
Foto: arquivo pessoal de José Rogério Licks