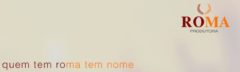Na rue Jules Guesde em Montpellier, no sul da França, há um mini castelo medieval, moradia de quatro peças e uma torre com escada helicoidal de pedra, que sobe até a câmara no alto. Em 1983 fiz concertos naquela região e participei do coral dirigido por C.G. Certa feita, após a apresentação de uma cantata de Bach, num papo com os 2° tenores, se revelou que dois deles eram fissurados pelo xadrez. Eu os via pela primeira vez mas, movidos por algum comentário meu, eles me intimaram a caminhar algumas quadras na noite, até a casa do seu amigo Didier. E depois estávamos os quatro galgando os degraus, para jogar xadrez na água-furtada da torre. Ver o rosto do Didier foi como saltar de um trampolim e mergulhar na água doce de um tempo perdido. Ele era a cara do Fifla, apenas mais velho e mais branco.
Entre os 9 e 13 anos eu era imbuído de uma tábua de valores, em que só poucas coisas tinham de fato importância. Uma delas era nadar no rio Caí. Mas nadar no rio tinha aspectos completamente diferentes, mesmo porque, como asseverou Heráclito, “nunca te banhas duas vezes no mesmo rio”. Penso que esta é uma das poucas assertivas filosóficas que não tem contestação. Eu, sem ser filósofo, vi que é a pura verdade. A água do rio sempre mudava, pegava outra cor, outra temperatura, outro volume, outro empuxo…
O curso completo no rio Caí tomava alguns anos, e começava em geral no Cais, que Álvaro de Moraes mandou construir, onde um chefe maragato escondeu um tesouro amarrado com correntes, que volta e meia tinha alguém mergulhando pra descobrir, mas nunca me interessou. O irmão ou amigo mais velho levava a gente e ensinava primeiro a boiar e nadar “cachorrinho”. Depois vinha nadar de costas e braçadas, até o parafuso, tudo no seu devido tempo. No começo eu imitava meu guru, o que ele dizia era lei. Mas na tarde em que senti meu corpo flutuar sem muito esforço nem pensamentos, deixei ele de lado e passei a curtir o rio do meu próprio jeito.Um dos grandes desafios no início era atravessar o rio a nado – batismo de fogo a que mais tarde também submeti meu filho, quando se deu a ocasião -, e encerrava a primeira grande etapa da formação.
Levei tudo muito a sério, pra ver quem nadava mais rápido, ou mergulhava mais fundo e ia mais longe debaixo d’água. Ou matar aula pra ir nadar na correnteza gelada da enchente, sulcada de redemoinhos. Ou aquelas pesquisas de caíque, procurando uma árvore debruçada sobre o rio, pra pular nágua lá de cima. Ou a aventura esticada de remar até a praia de arenito no sopé do morro da Mariazinha, e saltar da ponte ferroviária. Sempre havia algo novo pra descobrir. E nas entrelinhas tinha os desafios de quem fazia os melhores “peixinhos”, que era quando se arremessava uma pedra lisa, e ela ricocheteava não superfície da água. Certa vez consegui fazer cinco peixinhos, antes da pedra afundar, foi meu recorde. (Pescaria mesmo era outra galáxia, as coisas nunca se misturavam.)
Chegando no cais, o primeiro a fazer era pular da rua sobre o monte de areia dourada que os Isse acumulavam ali para nosso uso, impossível pagar aquela dádiva. E depois seguiam as atividades na água, ao longo das horas. Com o tempo, formou-se um povo de moleques que se conheciam, formavam panelinhas e estavam sempre em prontidão para possíveis entreveros, porém mantinham no seu código de honra o respeito incondicional àquele que demonstrasse ser o cara, no rio. E é aqui que entra o Fifla. O Fifla nunca aparecia de primeiro, ele sempre chegava quando o rio já estava chacoalhando, nego pulando n’água por todo lado, mergulhando, cruzando o rio. Ele vinha sempre só, não fazia parte de nenhum bando ou turminha. Ele não falava, só alguma frase curta e seca pra responder uma pergunta direta. Nunca mostrava os dentes numa risada, só um enigmático meio sorriso irônico de lábios fechados e olhar enviesado. Mas quando ele chegava, todos interrompiam o que estavam fazendo. Sabiam o que ia acontecer e cravavam a atenção nele.
Fifla trepava no telhado da gasolina ancorada, erguia os braços, flexionava como um arco o corpo esguio e com um impulso quase imperceptível dos pés subia no ar como uma flecha. Era demais ver aquela flecha humana voando para as águas lisas e esverdeadas do verão, focada em cheio pelo sol declinante.
Nunca soube seu nome, mas o apelido Fifla é extremamente preciso. A sua famosa “ponta” de cima das gasolinas nas águas do rio Caí – que era sem discussão a cereja do bolo – se compunha de dois momentos. O primeiro era Fi, quando ele impulsava com as pontas dos pés e voava no ar, o segundo era ao se enfiar nas águas, sem perturbar a calmaria, só se ouvia um fla enxuto.
Viver só é possível com o trabalho solidário das vísceras digestivas extraindo nutrientes dos alimentos, fígado, rins e demais órgãos garantindo a purificação, retirada do supérfluo e todo um sistema de esforço mútuo coordenado com os centros da consciência, que permitem aos pulmões absorver oxigênio e passar adiante, pro coração bater. No Fifla a coisa ia mais além, os ossos deviam ser tênues, não sobressaíam, e a pele era lisa, como feita pra resvalar. E seus movimentos e gestos pareciam lapidados no afã de elaborar uma essência, para o momento de se converter em flecha sobre o rio Caí. Sua pele era de um ocre natural e nos olhos oblíquos tinha algo forte de índio. O cabelo era liso e grosso, só que claro.
Na torre, jogando xadrez com Didier, o momento chave foi numa Abertura Índia do Rei, em que ele conduzia as brancas e se encontrava numa posição difícil, que o fez pensar muito. Finalmente achou um lance salvador e moveu o “alfil” (ele preferia o nome espanhol da peça) como uma seta, por toda uma diagonal, enquanto armava aquele meio sorriso fino e irônico, igualzinho ao do Fifla.
Muito antes, em uma das vezes que fui na casa do doutor Niquinho, ele me falou dos irmãos B., franceses que vieram para as nossas terras em tempos passados, e conviveram em harmonia com os índios ibiraiaras que aqui viviam. (Segundo o doutor, além de lidar com madeiras, os irmãos franceses também gostavam de ler e eram fãs das ideias de J. J. Rousseau.) Reunindo os vários indícios, se insinua com força uma hipótese: o embrião da arte do Fifla foi semeado numa remota noite perto do arroio Maratá, no encontro de um francês com uma ibiraiara.
Publicado no jornal O Progresso – Montenegro RS
Por José Rogério Licks
Foto: arquivo pessoal de José Rogério Licks