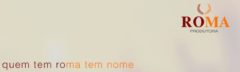Finalmente viemos para Santos, que afinal de contas é o centro do nosso projeto. Chegamos ao meio-dia, e depois de andar nas docas horas a fio, não tínhamos onde dormir. Caminhando pelo centro da cidade encontramos uma pracinha, alguns bancos em círculo na periferia e no interior algumas árvores, rodeando um pequeno claro. Nos acomodamos e ferramos no sono. Depois de algum tempo comecei a sonhar. Estava em um navio do Loide Brasileiro, subindo a costa rumo à Bahia, quando fomos atacados por um submarino. Eu via nitidamente os torpedos atingindo o casco do navio com um golpe seco, mas sem explodir nem produzir qualquer dano. Lá pelo quinto torpedo fui acordando, ouvindo gritos. Por um momento achei que continuava sonhando, só que com outra temática. Na contraluz do poste de iluminação surgiu uma silhueta de braços abertos, como o homem vitruviano do da Vinci, só que em sombras. E houve uma torção com a descida de um braço mais longo seguida do som do torpedo e terminei de acordar. De pé na minha frente – na mão esquerda erguida uma garrafa de vidro quebrada, na direita um pau grosso – uma mulher de pele escura me gritou: – Te escapa vagabundo sem-vergonha, quem te deu licença, vai lavar o chão do xilindró, que é o teu lugar!
Opa, brincadeira, fui recolhendo minhas coisas, sinalizando com a mão que já estava tirando o time de campo, como já tinham feito Sergio e Evaldo. Havíamos invadido seu território, era isso. Que idade teria essa mulher? A aparência era pra mais de cinquenta… Trazia o rosto pintado de um vermelho arroxeado, que lhe dava um aspecto de beterraba. Em Porto Alegre, na praça XV do Abrigo dos Bondes, tinha uma moradora de rua que também pintava o rosto assim… Já ia saindo com minhas coisas, mas uma súbita idéia me fez parar e falei:
– A senhora me desculpe alguma coisa… Eu não sabia que este lugar é seu.
Sem dizer nada ela desceu os braços, mas continuou segurando a garrafa e o sarrafo.
– Não me leve a mal, se soubesse, eu teria pedido licença… Vamos dizer que eu tomei pousada na sua casa. E agora eu quero pagar. E puxei um dinheiro que tinha no bolso.
– Quanto custa a pousada por uma noite? A mulher depositou suas armas no chão, sentou no tronco semi-caído e falou, olhando-me firme nos olhos: – Custa dez cruzeiros novos.
Contei o dinheiro e estendi para ela. Mas ela não pegou. Em vez disso, quis saber o que eu andava fazendo por ali. Ainda estava fresco o meu sonho e falei que estava indo para a Bahia. Coincidiu que ela era baiana, foi parar em Santos por uns trabalhos com o marido. Mas veio uma separação feia, e ela acabou ficando sem casa para morar. Não parou mais de falar, me contou uma porção de coisas de sua vida e me passou o endereço de uma amiga em Salvador, com quem tinha andado pela Amazônia. Em certo momento virou para o lado e disse, como que falando consigo mesma: – Morreu o Zé… Depois disso, me esqueceu.
Resumindo, pernoitei tranquilo na pracinha. Quando amanheceu fui atrás dos meus camaradas, eles haviam passado a noite debaixo duma marquise ali perto. Saímos caminhando pelas ruas e – tremendo rabo – descobrimos a Legião da Boa Vontade. Nem lembro como foi, mas ali estávamos, recebendo comida com os mendigos: sopa, um tentáculo de polvo e um pão que só amolecendo na sopa. Nós tínhamos algum dinheiro, mas pouco. E a pesquisa aos navios tomaria um tempo imprevisível, de ir nas docas todos os dias, até conseguir algo. Aí conversamos o pessoal da Legião, pra deixar as mochilas ali e não ter de carregá-las por todo lado, e saiu melhor a emenda que a encomenda: havia um quarto vazio, que não estava sendo usado, e nos permitiram fazer ali nossa pousada, por uns dias. De manhã nos davam um pingado, com o pão que a Legião recebia das sobras da cidade. Ao meio-dia e à noite era aquela sopa com o tentáculo de polvo (diziam que era isso, mas tinha um gosto estranho, de sabão). Passamos mais de uma semana lá, mas no final não conseguia mais engolir aquela coisa, lembrava demais um rabo de rato, e aquele gosto… Íamos todos os dias lá nas docas tentar a sorte, mas depois do terceiro anunciei que não iria mais, não tinha sentido irem os três juntos, fazendo a mesma coisa nos mesmos lugares. E na minha mente começava a se insinuar um outro plano. Passei a ficar todo o tempo no quartinho tocando violão e estudando as partituras de música, daquele livro grosso que eu trazia.
Uma tarde quis ir ver o mar, mas não aquelas praias infestadas de gente. Caminhei pela areia, até alcançar uns penhascos, onde as ondas rebentavam espumando, para depois recuarem, deixando ver os mariscos apinhados na rocha limosa. Não resisti e decidi arrancar alguns mexilhões, pra melhorar o cardápio. Era preciso aproveitar o tempo que a maré levava recuando, antes de recuperar o impulso e se lançar novamente sobre os penhascos. Deixei a camisa e os chinelos de dedo a salvo da água e desci até os mariscos, no recuo da onda. Mas as mãos resvalaram na rocha molhada e caí no mar. Nadando, percebi ser impossível sair da situação – era uma espécie de poço em frente das rochas -, o jeito era esperar que a subida me empurrasse novamente para cima do penhasco. Fui levantado suavemente, meu corpo avançou entre as rochas, e pousei sobre uma penha cheia de mexilhões, no meio das espumas. Me agarrei com todas as forças nos moluscos, para que a onda recuando não me arrastasse novamente pro mar. Tive sorte, os mariscos não cederam e pude me safar a tempo, antes de outra rebentação. Era suficiente para aquela tarde, as pernas e os braços tremiam do esforço feito e percebi as feridas em todo o corpo, principalmente no peito e nos joelhos. Desci das rochas e passei algum tempo ali, nu e sentado na areia, estancando o sangue com a bermuda. Quando melhorou me pus a caminho de volta. As feridas do peito e das mãos logo sararam. Mas as das pernas infeccionaram, estão incomodando.
Publicado no jornal O Progresso – Montenegro RS
Por José Rogério Licks
Foto: arquivo pessoal de José Rogério Licks