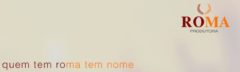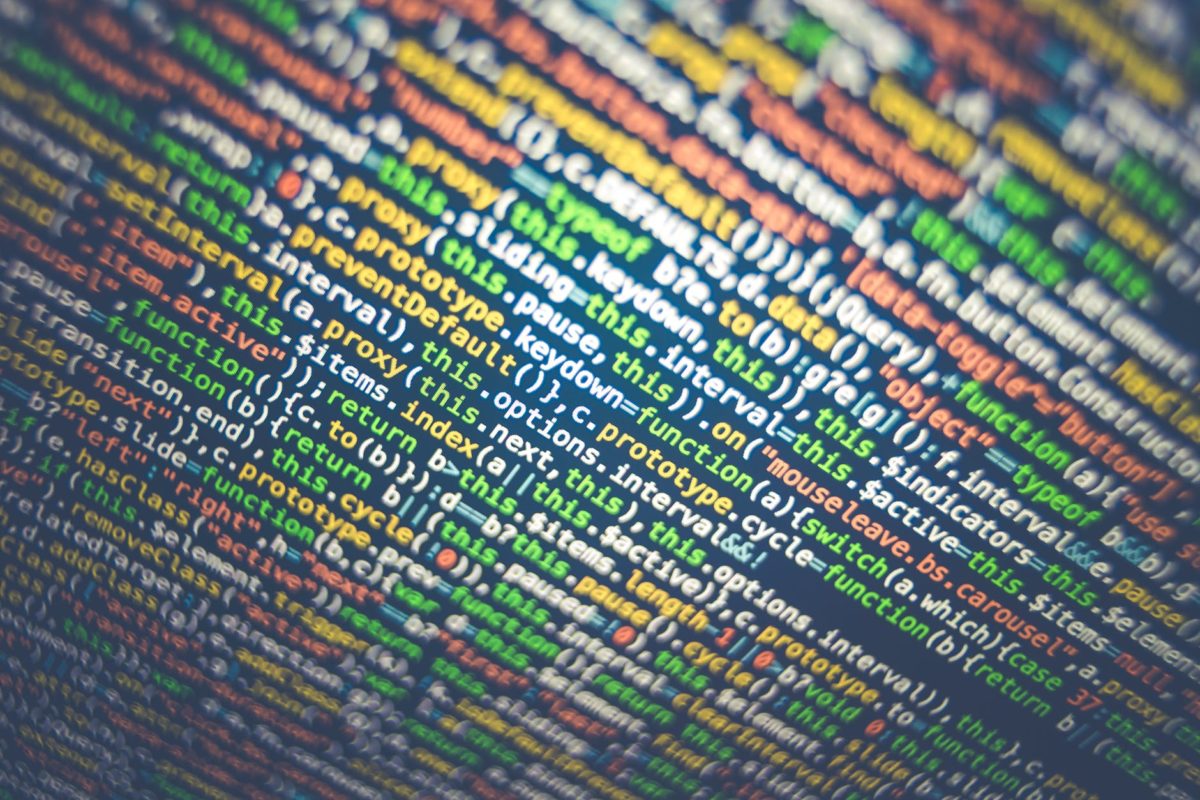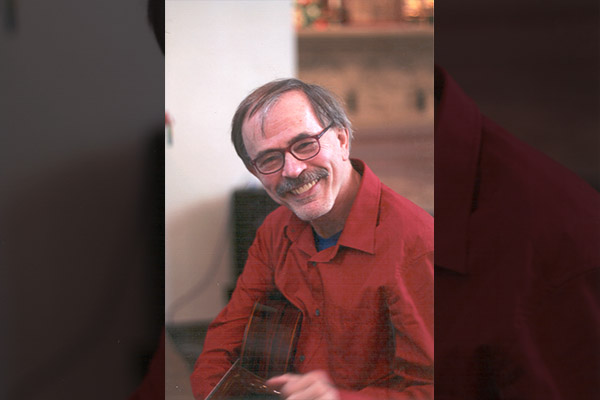Não me refiro propriamente a um referendo. É certo que às vezes impasses institucionais impõem a necessidade de uma consulta popular, e custa caro aos cofres públicos. Para esses casos talvez devêssemos copiar a solução usada nos EUA: embutir nas eleições os “sims” ou “nãos” para questões específicas, praticamente eliminando os custos extras.
O plebiscito a que me refiro é o significado que está assumindo a nossa eleição presidencial. Caráter simbólico ou mais do que isso, me diga você, leitor ou leitora, após refletir um pouco. O título desse artigo também contém a pergunta: acontecerá ? Afinal, surpresas acontecem. É como esperar por uma versão atualizada de um equipamento de trabalho e, em vez disso, o fabricante lançar um novo produto similar, só que diferente e bem mais caro. Vistam-se as carapuças.
Há pouco mais de um ano, escrevi que Lula e Bolsonaro teriam concorrência neste 2022 pois um manifesto lançado por lideranças de outras correntes partidárias propunha a definição de uma candidatura única para a chamada terceira via. Hoje parece claro que, salvo algum fato extraordinário, não haverá mesmo concorrência para os dois favoritos. Perdeu muito tempo a terceira via.
Em outro artigo, analisei a guerra na Ucrânia, procurando examinar friamente as suas causas, deixando momentaneamente de fora a comoção natural diante das atrocidades e horrores daquele conflito que agora parece não ter fim. Tecnicamente falando, ficou claro que a invasão ordenada por Vladimir Putin foi um movimento de antecipação, por a Ucrânia ainda não ter ingressado formalmente na OTAN. Se já tivesse se consumado, Putin teria que se conformar e não invadiria, pois estaria automaticamente e diretamente sob a mira do poderio bélico dos EUA e seus aliados militares. Do ponto de vista estritamente estratégico, Ucrânia e OTAN “comeram bola”, demoraram muito a se unir e disso aproveitou-se Putin.
De forma semelhante, a terceira via demorou demais a se decidir, e o tal manifesto caducou. Era uma carta de intenções, boa até. Conhecemos, porém, o dito popular “de boas intenções o inferno está cheio”.
Naquela época, havia 35 % do eleitorado sem identificação com Bolsonaro, que tinha 25% das intenções de voto, ou Lula, que tinha 40%. Existia, portanto, margem suficiente para que uma terceira candidatura ameaçasse tirar um dos dois do segundo turno, provavelmente o atual presidente. Com adesão de eleitores bolsonaristas no segundo turno, o candidato da terceira via também poderia ter sérias possibilidades de derrotar o petista. Só que …
O ano que se seguiu desfilou personalismos e aspirações individuais, e nada de união a não ser arremedos parciais que não empolgaram. Até políticos com alguma qualidade se vêem hoje relegados ao divisionismo de “nano” candidaturas que a essa altura as pesquisas sentenciam como meramente protocolares. Visam somente a marcar posição e ganhar publicidade para pleitos futuros, regionais ao menos, ou quem sabe aspirar a convites para cargos no governo dos vitoriosos.
Em campanhas eleitorais nunca se deve descartar a possibilidade de fatos e situações de última hora, capazes de trazer implicações e até reversão de tendências. Como já disse antes, é um jogo de convencimento publicitário e certamente os respectivos marqueteiros das candidaturas já elaboram planos para desestabilizar concorrentes, buscam produzir alguma “bala de prata”, através de uma revelação que atinja a confiança que determinado candidato almeja conquistar além de seu próprio eleitorado.
Por enquanto, porém, neste mês de maio o que se confirma é que a terceira via carece de poder de convencimento, não tem apelo popular. Ela pode até produzir as suas próprias balas de prata ferindo outras candidaturas, mas não em efeito suficiente para capitalizar muitos votos para seu lado. A terceira via segue padecendo da crise de identidade que o surgimento do bolsonarismo lhe impôs ao apoderar-se de sua bandeira eleitoral antipetista. Assim, ela dilui-se diante do que, na disputa presidencial, parece se consolidar como um bipartidarismo “de facto”.
Para o segundo turno, se houver, o que se coloca como questão é: o quanto de adesão Lula e Bolsonaro conseguirão contabilizar, respectivamente, de eleitores que os rejeitarem no primeiro turno? Qual irá prevalecer: o antipetismo ou o antibolsonarismo?
Frustram-se os eleitores e eleitoras que esperavam ver uma terceira via no segundo turno, restando-lhes aderir ao que avaliarem como voto útil, ao que considerarem como “menos ruim”. A vertente centro-esquerda da terceira via (Ciro Gomes/PDT) certamente migrará para Lula, caso haja segundo turno. A vertente centro-direita provavelmente se alinhará a Bolsonaro, que parece já ter embolsado os votos do desistente Sérgio Moro. À vertente “centro-centro” caberá descer do muro e se posicionar, se entender e aceitar o caráter plebiscitário que a eleição está adquirindo. Se optar por voto inválido, estará se omitindo.
Entra aí o significado de plebiscito. Descontando-se votos habituais de quem não entende e não quer saber de política, os eleitores órfãos de uma terceira via deverão pesar as consequências da escolha que irão fazer, mesmo que a contragosto. Deveriam ao menos considerar o que é pior, ou o que é menos ruim, para seus próprios interesses pessoais, corporativos, senão para o próprio país. Deveriam se perguntar, por exemplo, se lhes é importante ou não que continue o sistema de democracia representativa, com eleições livres regidas pela Constituição, ou se isso não lhes é importante. Se for, logicamente deveriam avaliar se alguma das candidaturas oferece risco à manutenção do atual sistema. Sim, porque se houver ameaça ela significa que, no futuro, terceiras vias talvez nem chances tenham mais.
A reforçar o caráter de plebiscito, não há como ignorar a farta amostragem ao longo do atual governo, entre declarações, atos, ameaças e provocações a instituições. Você leitora ou leitor, acha que apesar destes fatos o governo está comprometido com o regime democrático? Ou acha que não está? Sejam quais forem as verdadeiras intenções, elas se beneficiariam de legitimidade popular na hipótese de reeleição.
Assim, se Bolsonaro reeleito colocar em prática ameaças que tem feito, será porque assim terá escolhido a maioria do eleitorado, mesmo que a contragosto de sua quase metade. Se, por outro lado, o vitorioso for Lula, será porque a maioria dos eleitores, mesmo que a contragosto de sua quase metade, terá preferido de forma geral evitar possíveis ameaças ao atual regime. Alguns falam em polarização entre extremos nesta eleição, mas isso é inexato e manipulativo. A polarização é entre duas candidaturas, mas factualmente apenas uma delas revela feição extrema.
Essa é a decisão que depreende-se da eleição de 2022, mais do que a preferência ou rejeição por um ou outro candidato. É uma decisão que cabe aos milhões de brasileiros e brasileiras de uma faixa intermediária do eleitorado onde se incluem os que desgostam de ambos favoritos, os que sequer têm preferência, e os que sequer dão importância à política, que taxam de coisa ruim.
Parafraseando o brilhante thriller norte-americano “The Usual Suspects”, eu diria que uma das proezas do diabo foi também convencer muitos de que política é coisa ruim, como se inevitável e necessária não fosse.
A verdade é que nos falta educação política. Fundamentos de política e administração deveriam constituir disciplina obrigatória em currículos escolares, mas isso não existe. Em consequência, temos uma massa de gente, muitos com formação universitária até, politicamente analfabetos. E assim vivemos cercados de crendices, de quem acha que entende política quando tudo o que diz ou faz é agir como alguém de torcida organizada de futebol, gritando ladainhas religiosas em exaltação a seus respectivos ídolos e atacando adversários, às vezes com violência de hooligans.
Existem os que, conscientemente ou não, repetem jargões que confundem outras pessoas; como, por exemplo, de direita e esquerda serem “conceitos ultrapassados”. Ora, existem conceitos e para eles existem nomenclaturas, é preciso dar nomes aos bois. Esquerda e direita são nomenclaturas, apelidos, para nos referirmos a seus respectivos conceitos. Se não quisermos usá-los, OK, então que usemos outros apelidos, mas é preciso estabelecer alguma identidade, do contrário do que estaríamos falando ?
Simplificando, a oposição entre direita e esquerda pode abranger até aspectos de mudança versus conservadorismo e também valores morais. No entanto, entendo que sua caracterização fundamental é a de contrapor liberdade individual a compromisso social e, na prática, de defender que o estado priorize economicamente uma das duas coisas. A estas, qual o problema de referir-se como “direita” e “esquerda” ? A quem interessa ofuscar essa distinção ?
Claro que … quem é que quer mesmo debater hoje em dia? É algo ainda possível? Coisa de velho? Por que alguém deveria se importar com isso? Entra aí o conflito entre conhecimento e desconhecimento, cada um com respectivas causas, explicações, e implicações, tema muito amplo para embutir neste presente artigo.
Mas voltando à eleição plebiscitária … ela acontecerá ?
Existe preocupação com a segurança do pleito. Alguns analistas políticos já falam constantemente no risco de golpe (de Estado), outros preferem não pronunciar a expressão, temerosos de que sua publicidade ajude a incutir entre as pessoas a noção de que não seria algo anormal. É tipo o factóide que se dissemina popularmente contra o poder judiciário, na tentativa de acostumar as pessoas a aceitarem que as constantes intimidações ao STF e TSE sejam coisas normais. Você, leitor ou leitora, acha que são? Ou acha que não são? Somando-se a isso, declarações de algumas lideranças militares soam mais intimidantes do que tranquilizadoras.
Se Bolsonaro vencer, teria Lula como não aceitar? E se Lula vencer, iria Bolsonaro aceitar? Que força iria impedi-lo de alegar fraude nas urnas eletrônicas, como não cansa de apregoar, e de intentar um ato de força à semelhança do que Donald Trump não conseguiu nos EUA? Iriam as Forças Armadas se contrapor a seu Comandante-em-Chefe traindo obediência hierárquica militar para defender a Constituição da República Federativa do Brasil?
Nessa hora é de se perguntar o que vale mais: Constituição ou Forças Armadas? Estas últimas se bastam, não precisam de nenhuma garantia, já a primeira …
O vice-presidente Hamilton Mourão, de palavras geralmente medidas, salvo alguns escorregões, já declarou com todas as letras que nosso país “não é república das bananas”. É de se perguntar qual garantia disso ele oferece. Golpes militares típicos como na Bolívia dos anos 70 estão fora de moda, mas existem modalidades modernas de autocracias disfarçadas de democracia, como a própria Rússia de Putin. Além do mais, o general Mourão é carta fora do baralho de Bolsonaro, pelo sim ou pelo não ele mantém-se no cargo, talvez por vontade pessoal e de simpatizantes que não concordam com todas atitudes do presidente, e também porque, por lei, o presidente não tem poder para demití-lo.
No judiciário e legislativo, sempre ouviremos expressões protocolares e repetitivas garantindo a “solidez de nossas instituições democráticas”. Hoje em dia isso acontece mais no legislativo, pois recentes falas de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são reveladoras de que, sim, existe preocupação. Coincidência ou não, funcionários de segurança do STF têm feito cursos junto a fuzileiros navais, Comando de Operações Táticas (elite da Polícia Federal), e Interpol. Falta ouvirmos das diversas e mesmo das diluídas correntes de oposição se elas realmente engolem os clichês e se realmente confiam cegamente nas eleições. Você leitor ou leitora, confia? Ou não confia?
Cerca de duzentas instituições, incluindo o Ministério Público de São Paulo, reuniram-se num “Pacto pela democracia”, e já entregaram ao STF um manifesto em defesa do processo eleitoral. Enquanto isso, entre nossos partidos políticos, alguém aí falou em mobilização nacional em defesa da democracia? Se falou, ainda não deu para ouvir.
Augusto Licks é jornalista e músico
Artigo publicado originalmente por Milton Jung em https://miltonjung.com.br/2022/05/12/plebiscito-em-outubro-acontecera/
Photo by Tara Winstead on Pexels.com