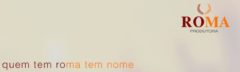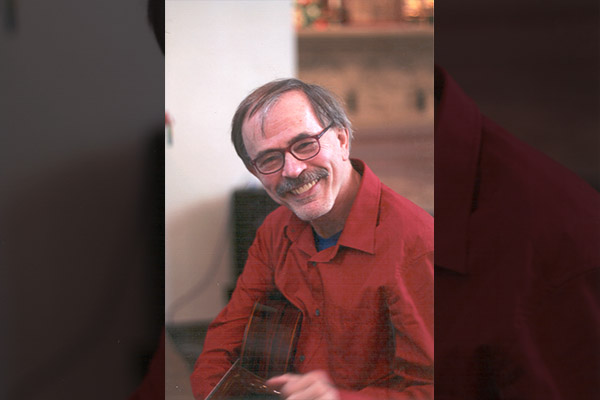Como se instalou na minha mente o vírus da dicotomia entre o Bem e o Mal?
Bom…, lá pelos anos 50 eu estava devidamente curtido na magia ritual religiosa, como um pepino de conserva no seu vinagre. Usava escapulário, me persignava com água benta, entrava na fila da beijação para depositar um ósculo na estátua de gesso do divino mártir… Colecionava santinho, estudava compenetrado o catecismo, rezava o terço com um rosário que me deram no aniversário, sabia de cor e salteado as rezas, inclusive o Credo, orava antes de dormir… E lá em casa em noites de temporal a mãe abria a janela e prendia fogo em ramos de palma benta, que ela sempre tinha para essas ocasiões. Era uma cena etrusca, o fogo e a fumaça das palmas combatendo o vendaval, que queria arrancar e levar o chalé, com nós dentro…
Veio a primeira comunhão, e eu fiquei em segunda época, tive que fazer de novo. É que eu fui sem fatiota, e o padre A. me reprovou e disse que o sacramento não valia, seria só de faz de conta. E se eu quisesse ir pro céu, teria de repetir devidamente trajado. Não saiu barato o trabalho do alfaiate, mas justifiquei lá em casa, me amparando nas teses do vigário: o Bem deve vestir fatiota… Assim foi, e a primeira comunhão foi a culminação de semanas de intensa doutrinação, e como eu repeti, recebi uma dose dupla de maniqueísmo.
Historicamente se atribui a uma certa região da antiga Pérsia (hoje Iraque) a famosa dicotomia, e ao heresiarca Manes. Mas o padre A. não ficava pra trás: nós estávamos com Deus, porém o Maligno andava por toda parte, inclusive em certos lugares da nossa cidade. Ele citou vários nomes, deles eu gravei apenas um, o tal café Guanabara, que eu nem desconfiava onde era, mas pra mim Satanás passou a andar por lá.
– A maçonaria é coisa do diabo, e na umbanda (eu não conhecia essas palavras) ele comparece em pessoa -, o padre dizia sem rodeios. E ainda jogava outros grupos no fogo do inferno, mas só estes dois ganharam relevo para mim.
Eu já estava na escola, descobria os livros e as palavras começavam a fazer minha cabeça. Por outro lado, também já queria definir meu futuro: quando for grande, vou ser jogador de futebol.
Aí apareceu o tenente S., pra recrutar quem quisesse fazer um teste no Estádio dos Taquarais, os melhores passariam a integrar o selecionado de futebol mirim da cidade. Achei tudo muito lógico, meus planos se tornavam realidade, ali começava minha carreira futebolística, me inscrevi no teste.
No dia combinado me encontrei com dois guris da vizinhança que também estavam inscritos, e saímos correndo em fila indiana, com eles na frente, que sabiam o caminho pro estádio. Subimos a rua um bom pedaço, dobramos pra direita e toca em frente. Eu ia contente e distraído, lendo os nomes das placas e tabuletas que iam aparecendo, me deixando guiar pelos outros.
De repente me deu um frio, li Café Guanabara num letreiro do outro lado da rua… Eu era muito devoto, e as palavras do padre A. tinham se encravado na minha mente… Fiquei aliviado quando nos afastamos daquela esquina, dobramos à direita e pouco depois estávamos entrando no campo de futebol.
Havia um grande número de guris se esquentando, pulando, chutando o ar. Os testes eram individuais, e começaram ali pelas nove horas. Fui dos primeiros, e depois de dez minutos avaliando minha habilidade no domínio da redonda sobre o gramado me dispensaram, por ser pouco apto para a prática do futebol. Foi um golpe duro nos meus planos e me deixou triste. Mas não por muito tempo.
Os testes e a seleção continuavam e eu estava sobrando ali, sem ter o que fazer. Foi quando percebi os altos taquarais, e fui para lá. Eles cresciam só em uma ala do campo, por onde passava uma sanga, coisa que descobri fascinado e me fez esquecer o futebol e lembrar as histórias de Taquara-Póca, do F. Marins. Explorei toda a extensão daquela parte do estádio, encontrei muitos pés de gengibre selvagem, reconheci pelo cheiro. E numa espécie de gargalo da sanga coloquei uma tábua que havia encontrado e passei para o outro lado. Ali só se viam muros e paredes traseiras de casas, mas encontrei um vão que permitia a passagem, me meti nele e fui sair na rua, ao lado da fábrica de bebidas Wilco, que fazia a Paquetá, minha bebida preferida. E fui pra casa, me orientando pela vista do morro São João.
Algum tempo depois me deu vontade de voltar por aqueles lados, e refazer a aventura em sentido inverso. Ou seja, me enfiar pelo espaço vazio entre o muro e a fábrica Wilco, atravessar a sanga e explorar o Estádio dos Taquarais, a meu bel-prazer. Andei pelas ruas distraído, e quando vi estava na frente da Igreja Episcopal, que eu não conhecia, mas me fez lembrar das imprecações do padre A. Aí me veio uma curiosidade mórbida, desisti da sanga e dos taquarais e caminhei na direção do café Guanabara, esperando conhecer algo chocante. Não tinha nada de especial lá, e já arrependido, resolvi ir até a casa do tio W., que ficava perto da cancha de carreiras. Se chegava lá caminhando ao longo do muro do estádio, mas atravessei a rua para andar na calçada oposta, que parecia melhor. Tinha dado uns poucos passos, quando ouvi sons estranhos, achei que vinham do campo de futebol. Não era, nem da esquina, os sons só podiam vir dali mesmo.
Eu estava parado em frente de uma casinha branca de alvenaria, com uma porta central ladeada por duas janelas, tudo hermeticamente fechado, e escutava um canto abafado de vozes no meio do batuque de tambores. Aí notei a plaquinha na porta: Centro de Umbanda Kabecilê. No mesmo momento o som subitamente cresceu, talvez por terem aberto uma porta interior que abafava o ritual que estava rolando lá nos fundos. Isso despertou um pânico irracional em mim, e me afastei correndo dali, fugindo do diabo como o diabo foge da cruz…
Naquele meu primeiro contato com a umbanda houve esse toque demoníaco, graças à ensinança do venerando padre A. Ao longo dos anos isso mudou, e descobri na religiosidade afro-brasileira uma fonte de inspiração, também para a criação musical. Especialmente quando passei um tempo na Bahia, e conheci pessoas como J. Deikin. Quanto à maçonaria, fica para outra sessão.
Publicado no jornal O Progresso – Montenegro RS
Por José Rogério Licks
Foto: arquivo pessoal de José Rogério Licks